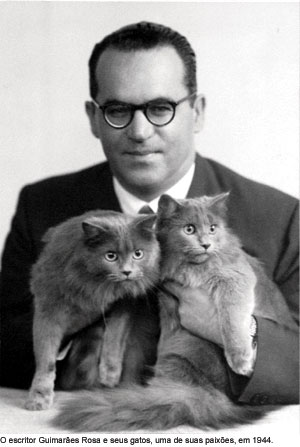GALERA, SEGUE UM TEXTO DE UM CAMARADA QUE ERA PRA SER PUBLICADO AQUI NA ÉPOCA DA COPA, MAS QUE EU VACILEI E ESQUECI COMPLETAMENTE. MAS POSSO GARANTIR QUE ELE NÃO PERDEU EM NADA SUA ATUALIDADE, NEM MESMO PÓS POLVO PAUL E MICK JAGGER FDP.
Este texto surgiu como comentário à notícia sobre a mais recente briga de Kaká e Juca Kfouri. Segue abaixo o link
http://g.br.esportes.yahoo.
******************************
1.Futebol, política e entretenimento
http://g.br.esportes.yahoo.
******************************
1.Futebol, política e entretenimento
Futebol e religião se misturam sim no Brasil. E, nessa mistura, são mais políticos do que as coisas públicas por aqui. Se política quer dizer "a maneira como a população trata assuntos de interesse público", no futebol seus desejos estão muito mais bem representados do que na política e no noticiário noturno. Inclusive com base na história recente. Há restos de demanda popular no Corinthians; é possível ler o processo de ascensão social dos imigrantes italianos no Palmeiras; a Portuguesa tornou-se um time menor ao mesmo tempo em que o sobrenome português tornou-se um detalhe irrelevante nas certidões de nascimento; todo mundo no "interior" do Brasil é flamenguista justamente porque o Flamengo é o time do povo só no Rio, estado-síntese do espírito malandro nacional. E, finalmente, o elitismo democrático sãopaulino equivale à aura cosmopolita do estado carro-chefe - a voraz locomotiva - do país.
Não dá pra ignorar esse tipo de "coincidência" entre o que se chama a "tradição" dos times e a maneira como cada brasileiro se compreende. São marcas do processo histórico. É disso que se constituiu aos poucos a firme relação entre o jogo e as identidades no Brasil. A ignorância sobre a função simbólica do futebol torna-se portanto um problema do ponto de vista da compreensão do país. Uma problema porque outras diversões chegam à rodo com a internacionalização do mercado e desempenham funções emelhantes; porque hoje falar de futebol não significa necessariamente não ser preconceituoso e compreender bem a cultura popular.E, finalmente, porque o próprio futebol já não é o que era antes, já não está mais tão evidentemente ligado à vida prática no país, e, nessa falta de vínculos, serve melhor à indústria do que a quem quer entender o futebol.
Ou seja, se hoje em dia muito pouca gente torce pelo seu time pelos motivos acima elencados, esse é um processo induzido que enceta também a dificildade de compreendê-lo como fenômeno real. Quanto mais o futebol se torna um espetáculo gigantesco; quanto mais ele produz trilhões e segmenta-se em mil formas de fruição, menos o ritual dos campos tem a ver com a vida real das pessoas que, no entanto, sustentam-no com um esforço de dedicação afetiva jamais visto. Justamente isso é que permite dizer que, sim, o futebol é político, mas com a ressalva de que, no futebol como na política, as decisões que compõem as verdadeiras regras do jogo estão cada vez mais além da consciência das pessoas que cada vez mais o sustentam como espetáculo.
2. Sob o viés de quem veste a camisa
Pois bem. Compreendido sob o viés do torcedor (ou fã - fanático - do futebol), esse processo coincide exatamente com o da transformação do "futebol-arte" em jogo multimilionário, globalizado e já não tão baseado no talento. Choram todos os que veem partidas medícores durante o ano inteiro: nenhum jogador hoje em dia tem o talento que tinha um Pelé. De fato, isso é uma verdade. Coerentemente, os torcedores já não são como antigamente, conhecem as regras, têm camisetas, vão aos estádios no ônibus da organizada, mas entendem quase nada das minúcias da "grande arte". Pouco se pode apagar desse fato. E justamente por isso as queixas dos fãs são tão inócuas quanto o senso de realidade dos comentaristas que manda valorizar o jogo médio atual (e assim conservam seus empregos).
Entretanto, por mais que o futebol tenha se tranformado em uma diversão razoável à custo de tornar-se incompreensível, sobrevive ainda no ato de torcer justamente a mesma parte de idealização que caracteriza as queixas dos antigos pelo fim dos "tempos áureos". No fundo, é como se a casca de truculência e encantamento ficasse e o próprio futebol se esvaísse. Ora, isso só faz provar o quanto mesmo o menos encarniçado torcedor não pensa nas coisas que sempre sustentaram-lhe o alto valor na cultura brasileira. Discute-se superficialmente as partidas; comenta-se com tédio a política; a religião parece uma prática arcaica, e o espetáculo continua.
Claro. Pensar sobre futebol contraria a própria essência do costume de "torcer", com a qual, para gostar desse esporte ao mesmo tempo democrático e de tudo ou nada, cada simpatizante precisa se comprometer. Afinal, foi para estar afinado com a vida no país que seu "espírito" procurou o futebol. E ele não há de abandonar o achado tão cedo.
Não é culpa dele. O poder dessa crença, em si um poder profundamente político, é grande demais. Ao empolga
 r-se com futebol, o torcedor carrega para dentro de si essa magiquinha que reforça o vínculo instintivo e misterioso entre a beleza dos chapéus do Pelé e o espírito profundo do Brasil, cuja imagem mais perfeita está naquele passado de tolerância, labilidade e desrecalque que fez a glória da cultura brasileira como um todo. Por sua vez, essa mesma imagem, através da inconsciência e do ardor amador do torcedor contemporâneo, sustenta ilusões preciosas para a manutenção do status quo no presente. E isso tanto mais quanto menos se encontra nas ruas um rastro sequer do belo país.
r-se com futebol, o torcedor carrega para dentro de si essa magiquinha que reforça o vínculo instintivo e misterioso entre a beleza dos chapéus do Pelé e o espírito profundo do Brasil, cuja imagem mais perfeita está naquele passado de tolerância, labilidade e desrecalque que fez a glória da cultura brasileira como um todo. Por sua vez, essa mesma imagem, através da inconsciência e do ardor amador do torcedor contemporâneo, sustenta ilusões preciosas para a manutenção do status quo no presente. E isso tanto mais quanto menos se encontra nas ruas um rastro sequer do belo país.Nesse sentido, não é mesmo permitido a nenhum torcedor tocar no passado do futebol. A todo preço deve ficar incólume o tempo em que meninos de rua, curtidos na cultura local, transformavam-se do dia para a noite em semi-deuses do esporte. Sim, no fundo sempre houve e sempre haverá um anjo dormindo no espírto de cada grande craque do passado. E todos sabem que a substância divina que anima os anjos é coisa secreta, inacessível a olhos e escrutínio humanos. Quando convém à ordem divina, no máximo Deus manda descer seus emissários à pequena área. E ali, tocando de súbito o ombro de uma jovem promessa, eles fazem irromper uma dessas jogadas que, hoje, não deixam de trazer um quê irremediável de saudade dos velhos tempos.
Inútil sugerir que em tal mistificação entra tanto de religião laica quanto entra nos gordos dízimos que Kaká envia todo mês para a Universal do Reino de Deus. Isso não parece chamar a atenção de ninguém. Exceção feita ao público que, muito embora não veja graça no jogo, involuntariamente acompanha um pouquinho de futebol, já que, afinal de contas, da graça e da desgraça divina ninguém consegue se esconder. Pois bem. Por todas essas razões arrisco dizer que somente a esse público recalcitrante está dado enxergar como de fato funciona a religião futeboleira lá dentro do coração do torcedor. E mais: juro de pé junto que justamente por isso é que Juca Kfouri, o anacoreta do futebol, persegue o impulso supostamente desespecializador de Kaká (aliás, seus comentários automaticamente lançam contra o jogador os mais ferozes leões da mídia eletrônica impessoal, arena onde nenhuma difamação é forte o bastante).
3. Nas trevas do coração do guerreiro
Então, vamos lá. Como se comportam esses 150 milhões de corações?
Bom, exatamente como a religião hoje faz menos, o futebol desvia a suas mais intensas vontades para o além-morte da arena sagrada, o estádio, onde ocorre a disputa pela honra que, na Terra, é impossível não macular. Ou seja, o fã de futebol, exatamente como o crente, nunca é um fã desinteressado. Ele toma parte em apenas uma forma de salvar-se inimiga de todas as outras, mas à brasileira, em esfera imaginária e com duvidoso respeito pluricultural às diferenças. Mesmo ciente de que aquilo não definirá sua vida real, ele se vê bem representado pelo seu proselitismo a cada campeonato. Pois se as brigas frias e diárias da vida não guardam rastro das grandes aventuras que o torcedor planejava quando menino, as dos jogadores preferidos conservam-nas oniricamente. Mas o movimento entre sonho e vigília é duplo, neste caso. O fato de o torcedor se empenhar na contemplação do rito sem poder abrir mão da distância contemplativa cobra direitos na vida real. Daí porque, mesmo sem saber para que time torcem os que lhe cruzam o caminho (ou quem são exatamente eles), o torcedor decodifica a vida enquanto embate geral entre o bem e o mal, onde guerreiros constituídos segundo tradições diversas estão brigando para cavar suas vitórias tanto quanto ele. E para alcançar tal fim valem tanto as boas obras quanto o arbítrio de Deus.
Em suma, admitido como uma diversão inocente, afirmado como disputa real pela felicidade imaginária, o futebol termina por ratificar a tomada de posição do torcedor na guerra incruenta sobre a qual se sustenta a vida semi-civilizada das camadas médias no Brasil. E nesse processo troca todas as formas modernas de se conceber a sociedade - com suas liberdade e opressões reais - pelas pré-modernas, ligadas às raças, tradições e compromissos culturais. Brincando um pouco, a agregação dos negros pela afirmação racial pode ser um sonho desmentido pela políticas culturalistas que trasnformam seus louros em formas de luta individual; o cultivo de tradições familiares pode ter se tornado uma piada no brechó da Vila Madalena cujos proprietários são uma família de gaúchos; os bolivianos são escravizados no Bom Retiro só porque são os mais recentes imigrantes. Mas o futebol ainda vive de fazer crer que o espírito brasileiro está na ginga do capoeirista; que o sul é um monobloco cultural separatista; que os bolivianos são os verdadeiros nativos da america latina e, como tais, cativos do poderio eurocêntrico.
Na terra em que brasões sempre foram exibidos para encobrir as negociatas e humiliações que as familias emigradas tiveram de cometer ou sofrer, esse é o verdadeiro espírito heráldico do torcedor.