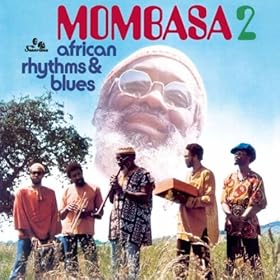MUDAMOS!!!
A partir de agora os novos textos serão postados no site do coletivo Chic Pop. Os textos anteriores do blog aos poucos também serão transferidos para lá. Participe!
É vedado pela Lei de Propiedade Intelectual o uso comercial dos arquivos contidos neste site, sendo seu uso limitado apenas à apreciação, não visando lucro direto ou indireto. Compre o original. Todos os links de materias encontrados aqui para realizar upload, estão arquivados na propria internet. E nem sei quem foram os criadores dos arquivos, eu apenas indico o caminho... se alguém se sentir prejudicado por alguma postagem entre em contato que nós a retiraremos do ar... bla bla bla
MUDAMOS!!!
A partir de agora os novos textos serão postados no site do coletivo Chic Pop. Os textos anteriores do blog aos poucos também serão transferidos para lá. Participe!
O parceiro Breno do coletivo Chic Pop montou uma playlist matadoura em homenagem aos 25 anos da queda do muro de Berlin, segundo ele “uma coletânea de jazz e funk vindo do lado de lá dos muros que separaram – e continuam separando – tantas sociedades. Escolhi fazer uma mixtape de músicas pop, porque acredito que mais do que qualquer razão econômica, política, geográfica ou militar, foi a dificuldade de ser pop a maior responsável pela lenta ruína do socialismo no mundo”. A seleção ficou fantástica, outra jóia de arqueologia musical.
Eu não consegui encontrar todas as músicas e nem todos os grupos da playlist na internet, então fiz ligeiras modificações: minha seleção tem três músicas a menos, e tive de mudar algumas poucas músicas, sempre mantendo vivo o “espírito” da coisa, afinal, é de comunismo que estamos falando, então é bom não ficar de brincadeira. E de quebra, a lista serve de contra-narrativa para o serviço de desinformação capitalista que temos hoje, mostrando que o comunismo foi muito além de Cuba, Vietnan e URSS e não era tão inimiga da criatividade e liberdade estética, ao menos não de forma tão chapada quanto a mídia corporativista faz supor. Pode tirar a bandeira vermelha do armário que aqui nós adoramos uma boa ditadura feminazi gayzista bolivariana. Segura essa pedrada (vermelha):
01 – Big Band Katowice – Madrox (Polônia)
02 – Theo Schuman Combo – Derby (RDA)
03 – Los 5-U-4 – Baila, Ven y Baila (Cuba)
04 – Phương Tâm – Đêm Huyền Diệu (Vietnã)
05 – Aura Urziceanu – Jacul Tambalelor (Romênia)
06 – Prague Big Band – Portrait (Checoslováquia)
07 – Krzyszstof Sadowski – Ten Nasz (Polônia)
08 – Zalatnay Sarolta – Hadd Mondjam El (Hungria)
09 – Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou – Djanfa Magni (Benin)
10 – Grupo Los Yoyi – El Fino (Cuba)
11 – Гая - Аман яр (Geórgia)
12 – Tian Niu - 恬妞(China)
13 – Modo – Delvitais Vilnis (Letônia)
14 – Miša Blam – Gorila (Yugoslávia)
15 – Carol Kim - Nỗi Buồn Con Gái (Vietnã)
16 - Irakere – Aguaniele Bonco (Cuba)
17 – Walter Kubiczeck – Heiße Spur (RDA)
18 – Ансамбль Мелодия под руководством Георгия Гараняна – Ленкорань (URSS)
19 – Bonga – Ghinawa (Angola)
20 – Collage – Mets Neidude Vahel (Estônia)
21 – Vagif Mustafazadeh – Yollar (Arzebaijão)
22 – Johnny Raducanu – Balada (Romênia)
 Nos momentos iniciais de Amadeus (Milos Forman, 1984), acompanhamos o maestro Antonio Salieri instaurado em um manicômio para onde foi levado após uma tentativa frustrada de suicídio. Nele, conversa com um jovem padre que pretende absolvê-lo de seus pecados. Em dado momento, o maestro toca para o padre algumas melodias de sua autoria, mas o jovem rapaz, apiedado, não reconhece nenhuma. A última peça entoada por Salieri, no entanto, é alegremente reconhecida. É de Mozart.
Nos momentos iniciais de Amadeus (Milos Forman, 1984), acompanhamos o maestro Antonio Salieri instaurado em um manicômio para onde foi levado após uma tentativa frustrada de suicídio. Nele, conversa com um jovem padre que pretende absolvê-lo de seus pecados. Em dado momento, o maestro toca para o padre algumas melodias de sua autoria, mas o jovem rapaz, apiedado, não reconhece nenhuma. A última peça entoada por Salieri, no entanto, é alegremente reconhecida. É de Mozart. 
"Não considero Titanic nem uma história de amor. Jack está morrendo congelado, e o que a Rose faz? Ela grita: eu nunca vou deixar você! E enquanto isso, ela está empurrando o cara pro fundo do mar. E as últimas palavras de Jack não são as de um amante, mas as de uma padre, um conselheiro moral. "Seja honesta, faça isso e aquilo". É só uma história reacionária sobre uma menina rica e mimada em crise de identidade adolescente que, como uma vampira, explora um rapaz de classe baixa para restaurar o seu ego. Assim que ele cumpre seu papel, pode morrer congelado. É o mito colonialista. Nós somos o Ocidente desenvolvido e moderno, mas que, infelizmente, se esqueceu dos valores verdadeiros que estão nos outros, pobres ou bárbaros. Nós sugamos o sangue delas e depois, tchau. O Iceberg nesse contexto surge para salvar o mito ideológico de amor que ela cria, que evidentemente seria destruído na primeira semana de casados". (ZIZEK)
Revendo Titanic dá pra entender porque Zizek considera James Cameron um dos maiores ideólogos de Hollywood hoje. Vejamos o caminho de seus argumentos. De fato, num primeiro momento parece que o filme traça um painel realista - quase marxista - de denúncia da crueldade das classes abastadas, posicionando-se contra o egoísmo dos ricos e a favor da vitalidade dos mais pobre. Mas é precisamente esse o grande salto ideológico do filme: ele não é, de forma alguma, “realista”, seu foco não é recontar a história tal e qual ela verdadeiramente aconteceu. Na verdade, os fatos estão a serviço de uma grande fábula conservadora, cuja moral é que por mais que os ricos sejam cruéis, desalmados, egoístas, etc., romper com essa desigualdade é atentar contra a própria ordem da natureza, o que será devidamente punido com um grande e fálico Iceberg. Todos sabem disso, sobretudo Jack, que se deixa morrer, e Rose, que deixa ele afundar pra não virar dona de casa. O deus de Cameron é o oposto do Deus dos Racionais - tem simpatia pela miséria, mas protege os poderosos a todo custo. Assim como qualquer filme-catástrofe hollywodiano, todo poder devastador da natureza tem por função reestabelecer o equilíbrio conservador da sociedade, seja o casal heterosexual branco de classe média, ou as classes poderosas com seus líderes, pelos quais o povo deve se sacrificar. A grande obscenidade do filme não está no egoísmo dos mais ricos, e sim no fato de que a própria natureza o legitima. É a mesmíssima lógica presente nos romances de formação pró colonizador, como Iracema, de José de Alencar. A simpatia pela pureza e beleza natural da índia só se justifica na medida em que ela “se deixa” colonizar, ou melhor, na medida em que essa colonização já aconteceu, e o Outro não oferece risco algum. Caso surja algum indício de resistência, os mais fracos se convertem em bárbaros selvagens, terroristas, bandidos, etc. A imagem positiva e não conflituosa dos pobres funciona como um aprisionamento na fantasia dos ricos, e o que legitima o seu “sacrifício”.
Não devemos nos iludir: todos os mecanismos “realistas” do filme estão a serviço dessa fábula conservadora. Um dos mais sintomáticos é o seu final, quando Jack não consegue subir na tábua em que Rose estava. James Cameron deixa claro que ele não sobe porque o peso não aguentaria os dois, ou seja, a justificativa é realista. Mas o não-dito fantasioso desse realismo consiste na tranquilidade com que Rose aceita o sacrifício de seu grande amor, inclusive dando uma mãozinha e empurrando-o para baixo. Fica claro que a razão do sacrifício dela ao amor não ter ido até as últimas consequências (ter morrido com Jack, ou tentado ajudá-lo até a morte) é outra. Ela precisa que Jack morra. Só a morte dele vai fazer com que aquele casinho inconsequente de verão se transforme no grande mito do Amor Eterno, que justifica a tragédia (afinal, os ricos também perderam algo importante ali, também sofreram). O romance dos dois serve como metonímia para o que acontece com todos os ricos no filme. São todos indivíduos soberbos, que levam uma vida vazia e sem sentido, ocupados com a satisfação imediata, etc. O desastre divino, contudo, não vem para puní-los, e sim para que eles, ao menos uma vez na vida, tenham algum tipo de “experiência”. Nada melhor para isso do que uma verdadeira tragédia em que aconteçam milhares de mortes – dos mais pobres, humildes e sem pecado, de preferência. O tempo todo os pobres são manipulados no filme para dar "sentido" ao vazio das elites, e Rose é a pior de todas, por ser bem intencionada. É nesse momento que a crítica à soberba dos ricos (que de fato existe nos filmes do James Cameron, e é um impulso - ainda que ligeiro - de solidariedade com os de baixo) é pervertida por um mecanismo de produção de satisfação para as elites apoiado na descartabilidade dos de baixo.
(Diga-se de passagem, Avatar tem um mecanismo ideológico parecido. “La fidelidad de Avatar a la vieja fórmula para formar una pareja, su plena confianza en la fantasía, y su historia del hombre blanco desposando a la princesa aborigen y así convirtiéndose en rey, hacen de ella una película ideológicamente conservadora, de vieja escuela. El brillo técnico sirve para maquillar este conservadurismo básico. Entre sus temas políticamente correctos (el hombre blanco honesto acompañando a los aborígenes en su lucha contra el "complejo militar-industrial" del invasor imperialista) podemos encontrar fácilmente una serie de motivos brutalmente racistas: un paria parapléjico de la tierra es suficiente para tomar la mano de la hermosa princesa local, y ayudar a los nativos a ganar su batalla decisiva. La película nos enseña que la única opción que tienen los aborígenes es elegir entre ser víctimas de la realidad imperialista, o desempeñar su papel asignado en las fantasías del hombre blanco. […] El film nos permite practicar una típica división ideológica: simpatizar con los aborígenes idealizados mientras se desestima su lucha real” (ZIZEK)).
Nesse sentido, o Iceberg é um símbolo fálico muito bem construído, porque catalisa os dois movimentos. A princípio, ele aparece enquanto punição divina da soberba dos ricos, que pressionam para chegar mais depressa em casa, limitam a quantidade de pessoas nos botes apenas pra poder ter mais espaço livre, zombam de deus, etc. O Iceberg funciona para dar uma lição de humildade a esses homens. Entretanto, todos (ou quase) os sobreviventes são ricos: o castigo recai sobre os pobres, que não tem nada com a soberba e representava até então o pólo positivo da narrativa. Porque acontece essa passagem? Apenas a primeira camada ideológica serve de acusação dos ricos (“a soberba dos ricos destróem o mundo”). Contudo, o Iceberg funciona também em um instrumento de realização dos impulsos sádicos obscenos dos ricos, e que é matriz de sua soberba - o desejo semi confessado de que todos os pobres morram. E de quebra, a vida dos ricos deixa de ser pura vacuidade, pois agora eles não são mais meros proprietários imbecis, mas os sobreviventes de uma das maiores tragédias da humanidade ou - o que é ainda pior - aquela que viveu seu único Grande Amor. O interessante do filme é notar como que a escolha da perspectiva de colocar os pobres como o pólo positivo não tem forças para se sustentar até o fim, convertendo-se no oposto. Os pobres são o que de melhor existe no mundo e, por isso mesmo, são sacrificados em nome da manutenção da ordem - o mesmo princípio do sacrifício da virgem. O mais perverso é que nossa perspectiva é a mesma da Rose, que ama aquele belo rapaz e que, portanto, não pode estar implicada em sua morte.
Ao final, as duas falas mais significativas do filme são "eu sou o rei do mundo", pois toda a "vida" do filme se deve, de fato, a Jack, e "no final eu sempre venço", que o noivo-vilão da Rose fala pro Jack em certo momento. Ele é um dos sobreviventes do Titanic. Jack é daqueles que não existem... O mundo faz sentido porque os pobres são descartáveis, o que é uma pena, afinal é tudo tão alegre e puro. Mas é melhor que seja assim.