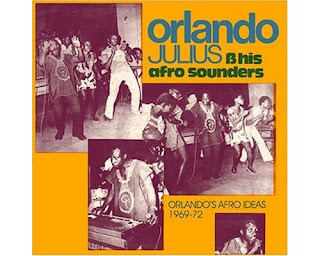Clementina de Jesus cantando Yaô, de Pixinguinha, no programa Brasil Especial, em 1976:
Reginaldo Rossi traduzindo e cantando "I will survive", no Largo do Arouche, 2009
É vedado pela Lei de Propiedade Intelectual o uso comercial dos arquivos contidos neste site, sendo seu uso limitado apenas à apreciação, não visando lucro direto ou indireto. Compre o original. Todos os links de materias encontrados aqui para realizar upload, estão arquivados na propria internet. E nem sei quem foram os criadores dos arquivos, eu apenas indico o caminho... se alguém se sentir prejudicado por alguma postagem entre em contato que nós a retiraremos do ar... bla bla bla
quinta-feira, 21 de maio de 2009
O processo de formação da minha escuta musical (I de II)
Manifesto biográfico em favor der uma escuta sem preconceitos
As palavras grifadas são links para textos, discos e vídeos.

Balada forte, pagode, quatro e tantas da madruga. Uma amiga questiona:
_ Voce diz que gosta do brega só pra causar. É impossível voce realmente gostar de Roberto Carlos e Coltrane. Ou então sua escuta é completamente esquizofrênica.
Na hora me defendi como pude, mas aquilo me ficou martelando na cabeça por um tempo. Aliás, não é a primeira vez que ouço coisas do tipo, que sou um cara inteligente com gosto musical duvidoso. Com isso, aliás, eu concordo. E como eu sempre parto do princípio de que toda afirmação, por mais falsa que possa parecer, contêm seu momento de verdade, duas questões acabaram tomando forma: uma voltada pra mim, e outra pra quem perguntava. Como se formou esse meu gosto esquizofrênico, ou seja, quais os caminhos eu percorri até chegar a minha percepção atual, e de que perspectiva ela pode ser considerado esquizofrênica, ou seja, a partir de que lugar essa minha amiga me questionava? Foi então que eu comecei um delicioso exercício de memória para tentar recuperar o processo de formação de minha escuta musical e esboçar uma resposta.
Cresci no interior de São Paulo e, como todo mundo, ia ouvindo basicamente aquilo que minha mãe ouvia. E como boa carioca, o que ela mais escutava em casa era samba enredo (na proximidade do carnaval o disco das escolas de samba era onipresente), e aqueles grupos e cantores de pagode dos anos 80, como Reinaldo, Royce do Cavaco, Marquinhos Satã, Jovelina Pérola Negra e, principalmente, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, Beth Carvalho e Fundo de Quintal. Além disso, toda cidade possui sua trilha sonora específica, e Marília respirava os mais variados tipos de música sertaneja, desde as mais tradicionais até as inúmeras variações de duplas. Mas esse tipo de som nunca foi consumido em nossa casa, apesar de influir em meu gosto futuro.
O pessoal lá de casa sempre teve um gosto musical eclético, e minha mãe ouvia também, ainda que menos constantemente, uns lps do Chico Buarque comprados na época de seu lançamento. Lembro que gostava muito do LP da samambaia, e também que não era conflito algum gostar de Chico na mesma proporção que do Emílio Santiago. Outro dado importante é que eu fazia um curso de piano no conservatório local, e por isso parte de meu repertório incluía autores clássicos, com quem tinha uma relação de amor e ódio, por ser obrigado a saber tocar aqueles temas complicados. Com isso ia aprendendo a ouvir autores cujo universo no geral escapa ao brasileiro, e formando meu próprio cânone, que incluía Beethoven e Mozart, este muito por causa do filmaço Amadeus. Mas nunca considerei (como acontecia com muitos dos meus colegas de conservatório) essa música como o que há de melhor e mais elevado em termos de arte. Achava bonito e tal, mas nunca foi para mim a música por excelência.
Nessa época eu não definia um estilo predileto, ou mais interessante. Eu gostava de música, qualquer uma, desde que me agradasse. O interessante de se observar é que tal disposição auditiva para o ecletismo não era uma exceção minha ou de minha família. Seja porque o mercado é bastante heterogêneo em sua rigidez, seja por qualquer outra razão, o fato é que boa parte das pessoas tem uma propensão à heterogeneidade musical. É claro, formam-se os grupos e os gostos, e as preferências vão se fixando, mas mesmo nos casos das tribos existem aquelas mais fechadas e as mais abertas. Por exemplo, os metaleiros são muito mais intransigentes com outros estilos musicais do que os pagodeiros. De qualquer modo, é muito mais comum do que se imagina encontrar pessoas que gostam, por exemplo, de Pavarotti e Reginaldo Rossi, de Tim Maia e Ivete Sangalo. Existem casos de maior incompatibilidade, é claro, geralmente envolvendo questões exteriores ao plano estético, como de classe (gostar de João Gilberto e Waldik Soriano), ou de geração, (Francisco Alves e Marisa Monte), mas mesmo esses casos não são incomuns - apesar dos ouvintes das camadas cults (jazz, MPB, clássico e Cia), serem mais intransigentes do que a média, com o argumento pouco convincente de que são mais criteriosos e refinados. Outro dia mesmo fui jantar na casa de uns amigos cearenses que ouviam com o mesmo grau de interesse e prazer Fernando Mendes e Baden Powell. A princípio, as pessoas gostam de muitas coisas de diferentes modos, variadas formas de amor que depois vão se fixando (ou não) em uma só, como em qualquer relacionamento, o que sempre comporta certa dose de artificialidade, má fé, sinceridade e ingenuidade. Mas o certo é que muitas vezes as pessoas são mais ecléticas (ou esquizofrênicas, caso se parta de uma perspectiva que estabeleça o valor à priori) do que elas próprias imaginam. Creio que essa foi, pois, a primeira lição que aprendi – não existe uma única escala de valor para se julgar objetos estéticos diferentes.
Mas até esse ponto meu gosto musical estava ainda em formação, não sendo diretamente fruto da minha escolha. Eu precisava ainda matar meus pais (no caso, minha avó e minha mãe, o que ajuda a explicar tanto meu amor pelas mulheres quanto meu lado mais afeminado) para me formar enquanto sujeito. Foi então que eu me tornei punk – ainda bem que na época não existiam os emos. Só que um punk de interior, que se limitava a ouvir as músicas e a usar roupa rasgada junto com mais dois ou três adolescentes. E punk de uma banda só. Foi nessa época em que o cd se popularizou, e todos os meus eram do Ramones. Foi um momento importante de definição de identidade, o momento “Morte ao mainstream e as rádios, ao breganejo e ao pagode”! A essa fase imediatamente se seguiu outra, sem grandes conflitos, quando eu comecei a tocar justamente em um grupo de... pagode. O grandioso Sob Medida. Sai de cena a camiseta preta rasgada e entra a camisa pólo bem passada. E agora minha escuta se concentrava basicamente em Soweto, Exaltasamba, Art Popular, além de continuar ouvindo os pagodeiros mais antigos como Zeca Pagodinho e alguns artistas da MPB, como Gilberto Gil e Djavan. A grande descoberta na época foi, além é claro do prazer de se tocar em conjunto, a da complexidade daquelas músicas, em especial no que diz respeito aos arranjos. Os argumentos daqueles que diziam não gostar de pagode porque eram musicalmente pobres a partir dali não colavam mais, e tampouco aqueles que reclamavam da pobreza das letras (quem curte uma banda que tem uma música chamada “Fear of the dark” não pode falar muita coisa). Mas mesmo nessa época eu achava os pagodeiros anteriores (Fundo, Jorge, Zeca, Paulinho da Viola) mais interessantes, e curtia mais partido alto do que aquele som mais meloso de pagode sem percussão. E nesse período eu ainda desconhecia Cartola e Nelson Cavaquinho, por exemplo.
Mesmo nesse momento de fixação de identidade, portanto, eu acabei não me prendendo a uma coisa só, ouvindo com a mesma naturalidade e para finalidades diferentes tanto Legião Urbana quanto Soweto, descobrindo inconscientemente suas afinidades. O passo seguinte do processo se deu quando sai da minha cidade para ingressar em um curso de ciências humanas da USP. Um momento central de rompimento com o ambiente familiar, de ampliação de horizontes e ao mesmo tempo de recrudescimento. O que leva para a segunda questão proposta, que seja, para quem o ecletismo constitui um problema. Logicamente, para aqueles que pretendem definir quais os critérios de valoração estética a partir de uma perspectiva mais rígida. E a USP é justamente o espaço onde se encontram aqueles que se julgam os mais gabaritados para definir o que tem ou não valor. O antro do bom gosto e a vanguarda do já estabelecido. E foi nesse espaço com o qual eu não havia tido contato anteriormente que eu pude ampliar meu repertório de uma maneira extraordinária, e ao mesmo tempo passar para o time de defensores da boa música contra o lixo que reina por ai.
Muitas foram as descobertas, que continuam até hoje, mas algumas foram de fato marcantes,  como o encontro com a música mais experimental. A grande transformação se deu quando eu ouvi Tom Zé (acho que o primeiro foi o Jogos de Armar), bem quando da época do relançamento de seus discos pela Trama. Até então eu não imaginava que aquilo podia ser feito com a música, uma coisa ao mesmo tempo radicalmente estranha e divertida. Nessa época tinha um ambulante na USP - a quem eu devo muito - e que era um dos caras que mais entende de música que eu conheço. Com ele comprei todos os discos do Tom Zé. Fiquei fissurado no Estudando o Samba, tentando decifrar todos os experimentos que ele fazia com o estilo. Descobri – a grande lição da arte moderna - que a música pode servir também para questionar o já estabelecido, ao invés de só estabelecer. E quase inevitavelmente caí no equívoco muito comum de achar que essa é a única, ou a mais importante função da música (ou da arte em geral). A partir desse encontro com o baiano fui atrás de outras coisas experimentais, radicalizando até chegar a vanguarda da música de concerto, como Stockhausen, Ligetti, Bério. Por algum tempo só ouvia isso, fazia parte dos Viciados em Xenaxis. Meu radicalismo na época chegou a tal extremo que eu não agüentava ouvir uma escala cromática Ocidental, tanto que passei a ir atrás de sons de outros Continentes, dos ragas indianos mais tradicionais ou das polifonias africanas mais desconcertantes. Descobri concepções de mundo a partir de sonoridades radicalmente diferentes da nossa. Sugiro a todo mundo que procure o Kecak de Bali, ou o canto sagrado dos monges tibetanos, a coisa mais sombria que eu já tive oportunidade de ouvir. Ainda hoje tenho uma coletânea de cantos de ciganos do sul do rajastão, que ilustra muito bem esse momento de rejeição absoluta de tudo o que fosse pop.
como o encontro com a música mais experimental. A grande transformação se deu quando eu ouvi Tom Zé (acho que o primeiro foi o Jogos de Armar), bem quando da época do relançamento de seus discos pela Trama. Até então eu não imaginava que aquilo podia ser feito com a música, uma coisa ao mesmo tempo radicalmente estranha e divertida. Nessa época tinha um ambulante na USP - a quem eu devo muito - e que era um dos caras que mais entende de música que eu conheço. Com ele comprei todos os discos do Tom Zé. Fiquei fissurado no Estudando o Samba, tentando decifrar todos os experimentos que ele fazia com o estilo. Descobri – a grande lição da arte moderna - que a música pode servir também para questionar o já estabelecido, ao invés de só estabelecer. E quase inevitavelmente caí no equívoco muito comum de achar que essa é a única, ou a mais importante função da música (ou da arte em geral). A partir desse encontro com o baiano fui atrás de outras coisas experimentais, radicalizando até chegar a vanguarda da música de concerto, como Stockhausen, Ligetti, Bério. Por algum tempo só ouvia isso, fazia parte dos Viciados em Xenaxis. Meu radicalismo na época chegou a tal extremo que eu não agüentava ouvir uma escala cromática Ocidental, tanto que passei a ir atrás de sons de outros Continentes, dos ragas indianos mais tradicionais ou das polifonias africanas mais desconcertantes. Descobri concepções de mundo a partir de sonoridades radicalmente diferentes da nossa. Sugiro a todo mundo que procure o Kecak de Bali, ou o canto sagrado dos monges tibetanos, a coisa mais sombria que eu já tive oportunidade de ouvir. Ainda hoje tenho uma coletânea de cantos de ciganos do sul do rajastão, que ilustra muito bem esse momento de rejeição absoluta de tudo o que fosse pop.
 como o encontro com a música mais experimental. A grande transformação se deu quando eu ouvi Tom Zé (acho que o primeiro foi o Jogos de Armar), bem quando da época do relançamento de seus discos pela Trama. Até então eu não imaginava que aquilo podia ser feito com a música, uma coisa ao mesmo tempo radicalmente estranha e divertida. Nessa época tinha um ambulante na USP - a quem eu devo muito - e que era um dos caras que mais entende de música que eu conheço. Com ele comprei todos os discos do Tom Zé. Fiquei fissurado no Estudando o Samba, tentando decifrar todos os experimentos que ele fazia com o estilo. Descobri – a grande lição da arte moderna - que a música pode servir também para questionar o já estabelecido, ao invés de só estabelecer. E quase inevitavelmente caí no equívoco muito comum de achar que essa é a única, ou a mais importante função da música (ou da arte em geral). A partir desse encontro com o baiano fui atrás de outras coisas experimentais, radicalizando até chegar a vanguarda da música de concerto, como Stockhausen, Ligetti, Bério. Por algum tempo só ouvia isso, fazia parte dos Viciados em Xenaxis. Meu radicalismo na época chegou a tal extremo que eu não agüentava ouvir uma escala cromática Ocidental, tanto que passei a ir atrás de sons de outros Continentes, dos ragas indianos mais tradicionais ou das polifonias africanas mais desconcertantes. Descobri concepções de mundo a partir de sonoridades radicalmente diferentes da nossa. Sugiro a todo mundo que procure o Kecak de Bali, ou o canto sagrado dos monges tibetanos, a coisa mais sombria que eu já tive oportunidade de ouvir. Ainda hoje tenho uma coletânea de cantos de ciganos do sul do rajastão, que ilustra muito bem esse momento de rejeição absoluta de tudo o que fosse pop.
como o encontro com a música mais experimental. A grande transformação se deu quando eu ouvi Tom Zé (acho que o primeiro foi o Jogos de Armar), bem quando da época do relançamento de seus discos pela Trama. Até então eu não imaginava que aquilo podia ser feito com a música, uma coisa ao mesmo tempo radicalmente estranha e divertida. Nessa época tinha um ambulante na USP - a quem eu devo muito - e que era um dos caras que mais entende de música que eu conheço. Com ele comprei todos os discos do Tom Zé. Fiquei fissurado no Estudando o Samba, tentando decifrar todos os experimentos que ele fazia com o estilo. Descobri – a grande lição da arte moderna - que a música pode servir também para questionar o já estabelecido, ao invés de só estabelecer. E quase inevitavelmente caí no equívoco muito comum de achar que essa é a única, ou a mais importante função da música (ou da arte em geral). A partir desse encontro com o baiano fui atrás de outras coisas experimentais, radicalizando até chegar a vanguarda da música de concerto, como Stockhausen, Ligetti, Bério. Por algum tempo só ouvia isso, fazia parte dos Viciados em Xenaxis. Meu radicalismo na época chegou a tal extremo que eu não agüentava ouvir uma escala cromática Ocidental, tanto que passei a ir atrás de sons de outros Continentes, dos ragas indianos mais tradicionais ou das polifonias africanas mais desconcertantes. Descobri concepções de mundo a partir de sonoridades radicalmente diferentes da nossa. Sugiro a todo mundo que procure o Kecak de Bali, ou o canto sagrado dos monges tibetanos, a coisa mais sombria que eu já tive oportunidade de ouvir. Ainda hoje tenho uma coletânea de cantos de ciganos do sul do rajastão, que ilustra muito bem esse momento de rejeição absoluta de tudo o que fosse pop.
Seguindo pelo mesmo caminho, me deparei com o Jazz, e me apaixonei pelos álbuns do Miles Davis (um dos sujeitos mais heterogêneos e inovadores da história da música), pelo sax visceral de Coltrane, pelos álbuns ao mesmo tempo modernos e tradicionais de Mingus, por Herbie Hankcok. Formei assim meu segundo postulado da época, de que a música além de se afastar do pop, tem que ser brilhantemente executada por músicos extraordinários. Não que eu houvesse abandonado a escuta de canções mais tradicionais. Ao contrário, apreciava agora bastante a poesia de Chico Buarque e de Vinicius, a delicadeza complexa da Bossa Nova (especialmente do brilhante João Gilberto, em quem fiquei um tempo viciado) e seus derivados mais interessantes, como João Bosco. Admirava também os grupos do manguebeat, que representavam ao mesmo tempo uma grande originalidade e um apego ao mais tradicional, algo também muito valorizado pelas camadas cults – música tradicional é aquela que não se “vende” ao mercado, como jongo, maracatu, cacuriá e outras manifestações populares mais tradicionais. Nessa época comecei a conhecer e freqüentar os grupos de cultura popular, seja tocando, seja dançando. Em suma, ouvia e apreciava a música de bom gosto e refinada, complexa e essencialmente não mercadológica, como se isso de fato existisse. Nessa época aprendi a lição transmitida por Coltrane e Hermeto, de que é possível criar obras geniais que se afastam dos parâmetros mais imediatos da escuta comum, mas que ainda assim guardam uma estranha beleza. E também a de João Gilberto, de que a canção é um conjunto altamente complexo sob uma aparência de despojamento. Esse foi o momento em que eu adotei irrestritamente o ponto de vista da camada cult defensora do bom gosto, julgando todas as manifestações musicais a partir do paradigma muito especificamente localizado da música para ouvir. Todas as músicas valorizadas por essa vertente têm em comum (com exceção da música mais tradicional, anterior) o fato de ter como horizonte uma sala de concertos, com uma platéia totalmente absorta e consciente, o próprio sujeito Ocidental moderno encarnado. Criticava o pagode e a música brega como o pior dos lixos, música de massa, desinteressante, cuja única função relevante era a dominação, mais ou menos como o samba era visto em seus primórdios. Ou seja, emburrecia na medida em que ia ficando mais culto. De fato existe algo de verdadeiro nessas afirmações, porém o que atualmente me parece o mais importante é que a acusação de baixa qualidade musical tem como principal finalidade desobrigar o autor da crítica a se aproximar do objeto criticado. Mantêm-se dessa forma uma estrutura sustentada em um preconceito profundo disfarçado de senso estético. Porque dizer simplesmente se algo é bom ou ruim não traz nenhuma contribuição relevante para o conhecimento, traduzindo mero descaso, preguiça ou má vontade. O relevante é saber de que modo essa coisa é ruim.
O processo de formação da minha escuta musical (II de II)
Chegamos assim ao momento seguinte de minha formação, em que sofri um processo de retorno ao ecletismo inicial, agora sob outras bases. A origem do processo está em meu desencantamento com a cultura acadêmica e com a vida universitária. Um bode intenso daquele povo todo achando que consegue falar de tudo e entender o mundo, sendo que a maioria é incapaz de trocar uma idéia mais reta com o porteiro do prédio. Linguisticamente incapaz, eu quero dizer. De repente caiu na minha cabeça todo o processo de exclusão necessário para que aquele conhecimento se construísse. Tudo o que eu ia apreendendo com Roberto Schwarz, Foucault e Machado de Assis num instante ficou muito claro. E acho que muito da minha postura de “militância brega” se deve a vontade de tornar isso claro pra todo mundo. A cultura erudita e cult no Brasil serve como instrumento de exclusão, e isso não é apenas uma conseqüência da sua forma, mas sua principal finalidade. Seu gume mais afiado. A arte “séria” existe no apagamento dos excluídos, o que implica em duas conseqüências principais. Primeiro, que essas formas artísticas trarão em si uma fratura formal que não pode ser superada e exige identificação. Segundo, que nosso olhar é incapaz de racionalizar o julgamento das manifestações estéticas que fogem do padrão erudito, e que são justamente as mais relevantes no nosso caso. Sabemos que Luiz Gonzaga é um gênio, mas não sabemos muito bem porque. Só conseguimos avaliar por adjetivos: é lindo, autêntico, do povo. Ou então por análises musicológicas que vão mostrar que Tom Jobim é muito mais complexo – daí o prestígio que a Bossa e seus derivados possuem entre os cults. A racionalidade ocidental não está preparada para julgar as manifestações populares, e lida com isso classificando essas manifestações como arte menor. Ou então passa a aceitá-las como relevantes apenas quando representantes da alta cultura (universitários geralmente) começam a participar dela.
O resultado dessa nova tomada de consciência foi que eu tornei a olhar para aquilo que havia rejeitado, procurando reconhecer a perspectiva a partir da qual poderia julgar o valor desses objetos. Ousando colocar questões naquilo que é tido como o óbvio ululante.Por exemplo, será Cartola de fato melhor que Zeca Pagodinho? A resposta pode até ser afirmativa, mas a partir de então eu teria por objetivo compreender como essa supremacia se realiza de fato, e não simplesmente achar que ela está dada porque estou mais acostumado com determinado paradigma.
A lição da vez foi transmitida simultaneamente por Adorno e Caetano, de que a escuta musical é o lugar em que os preconceitos sociais mais afloram, exatamente por ser o lugar em que menos se apresentam enquanto preconceito. O gosto se converte em dominação. Uma das minhas grandes descobertas se deu quando, ao ler uma reportagem na extinta revista Showbizz sobre os maiores álbuns de rock do Brasil, me deparei com não apenas um, mas dois discos do Roberto Carlos. Até então o rei era para mim sinônimo de tudo o que há de mais brega, kitch e de mau gosto na música brasileira. Fui então ouvir os ditos álbuns Em ritmo de aventura (1967), e Roberto Carlos (1969). Qual não foi minha surpresa ao descobrir dois álbuns incríveis, com um repertório irrepreensível, romântico sem ser brega, rock sem ser bobo como fora a jovem guarda e, sobretudo, black em alto nível. E com um intérprete absolutamente extarordinário. Esses discos me fizeram questionar conceitos que até então eu tinha como estabelecidos, como brega e mau gosto. E aceitar cada vez mais a idéia de que fazer uma música pop e acessível não diz nada sobre sua qualidade. Esses álbuns juntamente com o disco de 1971 (que traz uma das canções românticas mais lindas e bem realizadas do país, Detalhes), me fizeram perceber que o pop é muito mais um instrumento de medida com uma escala que vai do mais acessível para o mais experimental, ao invés daquela idéia do senso comum que equivale o pop a falta de criatividade. Pois se nosso Robertão é brega (e não digo que não o seja, só questiono a negatividade do conceito), não é menos certo que Frank Sinatra também o seja. E a questão é saber se isso faz do “the voice” uma bela duma porcaria, ou se é justamente aquilo que faz dele o cara? Não tenho dúvidas que se o Sinatra fosse brasileiro, ele seria considerado como apenas mais uma porcaria que vende. Todo compositor (e todo crítico) brasileiro é um complexado. Sofrem todos do complexo de Pestana, aquela personagem machadiana que queria compor grandes peças sinfônicas mas que só conseguia fazer polcas magistrais. Não adianta, e o mais próximo que iremos chegar de Beethoven é mesmo João Gilberto, para o bem e para o mal.
Aprendi a mesma lição no meu encontro com os Beatles. Na verdade, o encontro com os álbuns maduros do grupo se deu no momento cult anterior. Até então os Beatles eram para mim os caras do ieieie e das baladinhas gostosas e mais que manjadas. Só depois é que tive contato com os álbuns mesmo, e com a obra revolucionária e altamente experimental pós Rubber Soul. A partir daí os caras viraram para mim sinônimo de psicodelia e piração. E de fato eles são os maiores revolucionários da cultura pop, mais isso porque (e essa descoberta se deu no momento seguinte) eles são simultaneamente os mais pop da cultura pop, e sua relevância está em mesclar os dois registros de forma extraordinária. Eles são o que são porque criaram algumas das melodias mais lindas da história música comercial, perfeitas para se tocar em um acampamento de adolescentes, praticamente definindo o que se entende por pop. Músicas simples, ligeiras, cujo conteúdo se constrói a partir da inter-relação entre letra e melodia. Os quatro rapazes ensinaram também que a criatividade é mais importante do que a técnica. Eles não são geniais apesar de serem pop, mas justamente porque são pop é que são geniais. Um pop diferenciado e de altíssima qualidade, mas ainda assim, pop. A música mais comercial (e nada é mais rentável do que os Beatles) pode ser uma forma artística da maior relevância – daí a necessidade de se olhar com cuidado para todos os lados.
Duas lições ainda foram muito importantes nesse período. A primeira, o encontro com James Brown, revelando para mim todo um novo universo musical. A música para dançar mais radical (construída a partir de um único acorde que assim transfere seu valor harmônico para o rítmico) exige um processo criativo tão complexo quanto às elaborações harmônicas mais complexas do jazz. Mister Sex Machine reduz a música a seu essencial, a seu caráter de rito pagão. E faz isso ao transformar todos os instrumentos – inclusive a voz e a língua – em tambores. Corpo e espírito se tornam um só, e a música ocidental dá uma guinada radical. Coltrane e James Brown estão em um mesmo patamar de genialidade, não sendo possível dizer que a música para dançar exige um grau de complexidade menor do que o da música para ouvir, e que se assim o julgamos é simplesmente porque o paradigma a partir do qual o mundo se organiza é branco e Ocidental, e este é absolutamente despreparado para entender as diversas outras manifestações mais coloridas da linguagem.
Brown, revelando para mim todo um novo universo musical. A música para dançar mais radical (construída a partir de um único acorde que assim transfere seu valor harmônico para o rítmico) exige um processo criativo tão complexo quanto às elaborações harmônicas mais complexas do jazz. Mister Sex Machine reduz a música a seu essencial, a seu caráter de rito pagão. E faz isso ao transformar todos os instrumentos – inclusive a voz e a língua – em tambores. Corpo e espírito se tornam um só, e a música ocidental dá uma guinada radical. Coltrane e James Brown estão em um mesmo patamar de genialidade, não sendo possível dizer que a música para dançar exige um grau de complexidade menor do que o da música para ouvir, e que se assim o julgamos é simplesmente porque o paradigma a partir do qual o mundo se organiza é branco e Ocidental, e este é absolutamente despreparado para entender as diversas outras manifestações mais coloridas da linguagem.
 Brown, revelando para mim todo um novo universo musical. A música para dançar mais radical (construída a partir de um único acorde que assim transfere seu valor harmônico para o rítmico) exige um processo criativo tão complexo quanto às elaborações harmônicas mais complexas do jazz. Mister Sex Machine reduz a música a seu essencial, a seu caráter de rito pagão. E faz isso ao transformar todos os instrumentos – inclusive a voz e a língua – em tambores. Corpo e espírito se tornam um só, e a música ocidental dá uma guinada radical. Coltrane e James Brown estão em um mesmo patamar de genialidade, não sendo possível dizer que a música para dançar exige um grau de complexidade menor do que o da música para ouvir, e que se assim o julgamos é simplesmente porque o paradigma a partir do qual o mundo se organiza é branco e Ocidental, e este é absolutamente despreparado para entender as diversas outras manifestações mais coloridas da linguagem.
Brown, revelando para mim todo um novo universo musical. A música para dançar mais radical (construída a partir de um único acorde que assim transfere seu valor harmônico para o rítmico) exige um processo criativo tão complexo quanto às elaborações harmônicas mais complexas do jazz. Mister Sex Machine reduz a música a seu essencial, a seu caráter de rito pagão. E faz isso ao transformar todos os instrumentos – inclusive a voz e a língua – em tambores. Corpo e espírito se tornam um só, e a música ocidental dá uma guinada radical. Coltrane e James Brown estão em um mesmo patamar de genialidade, não sendo possível dizer que a música para dançar exige um grau de complexidade menor do que o da música para ouvir, e que se assim o julgamos é simplesmente porque o paradigma a partir do qual o mundo se organiza é branco e Ocidental, e este é absolutamente despreparado para entender as diversas outras manifestações mais coloridas da linguagem.
Ao mesmo tempo por aqui Jorge Ben me ensinava que o centro nervoso da canção não é a letra nem a harmonia, mas a melodia, o ponto de intersecção das várias culturas que nos constituíram, a partir da fala. Mas eu só entendi o que ele me dizia após receber lições de semiótica.
E por fim as lições de Caetano Veloso desde o início do tropicalismo, que fez sua profissão de fé exatamente mostrar essas coisas que aos poucos fui reconhecendo. Existe música boa (ou pode haver) em todos os lugares, e se não o reconhecemos não é por culpa das canções, mas porque nosso ouvido é a parte mais preconceituosa de nosso corpo. E como tal, uma das mais burras. Daí o processo de regressão da nossa audição, que precisa ser desconstruído se quisermos de fato nos reconhecer na mais rica manifestação artística que existe no país, sendo capaz finalmente de compreender tal riqueza. Precisamos sim compreender em que medida o créu é nacional, porque Claudinho e Buchecha são melhores compositores que a média dos artistas de funk melody, porque Leandro e Leonardo têm mais sucessos que as demais duplas sertanejas. A que tradições correspondem Waldick Soriano e Odair José, respectivamente, como eles a atualizam e qual dos dois é melhor. Ouvir de fato as músicas que gostamos e as que criticamos, em vez de ouvir somente o reflexo de nós mesmos e do capital social que investimos. Entender enfim, porque não gostamos de determinadas canções. Será que a música é de fato ruim, ou sou eu um cusão de classe média, ou um mané qualquer que só consegue encontrar valor naquilo que foi determinado para minha faixa de consumo?
**********
 É claro que esse retorno ao ecletismo não se deu nos mesmos moldes de antigamente. Como dizem por aí, a vida é travessia e, o tempo, redemunho. A vida sempre cobra seu preço, que é não podermos se livrar dela, e minha escuta não passou impune pelo paradigma da música de ouvir. Para esse tipo de ouvinte, a questão não está em gostar ou não de determinado artista, mas em racionalizar esse gosto e justificá-lo em termos de valor estético. É absolutamente necessário que aquilo de que se gosta tenha qualidade em algum nível ou, pelo menos, é preciso se ter muito claro as razões do gosto. Ou seja, tem que se construir uma escuta crítica. O risco evidente e mais comum é se cair naquele normatismo burro que conduz a extremos (como não conseguir ouvir música ocidental). Mas é aí que entra outra lição muito importante, dessa vez da antropologia. Para se entender determinada cultura é necessário se partir em primeiro lugar de seus próprios critérios, com o risco de se cair em uma sobredeterminação reducionista. Em outras palavras, não se julga um show do João Gilberto com os mesmos parâmetros com que se julga um do Reginaldo Rossi. Um show do rei nunca terá a riqueza musical que o violão do mestre João proporciona, ao mesmo tempo que este jamais conseguirá ser tão cativante e divertido quanto o Reginaldo. Escolher um dos critérios (afinal, no show o que importa mais é a música ou a performance?) como o mais relevante e partir daí hierarquizar só irá levar a reducionismos empobrecedores, do tipo João Gilberto é muito chato, ou Reginaldo Rossi é muito brega. Mais interessante, e isso em termos de crítica, e não de gosto, é tentar compreender como ambos são mestres, cada um a seu modo e em seu devido lugar, independente de sua preferência pessoal.
É claro que esse retorno ao ecletismo não se deu nos mesmos moldes de antigamente. Como dizem por aí, a vida é travessia e, o tempo, redemunho. A vida sempre cobra seu preço, que é não podermos se livrar dela, e minha escuta não passou impune pelo paradigma da música de ouvir. Para esse tipo de ouvinte, a questão não está em gostar ou não de determinado artista, mas em racionalizar esse gosto e justificá-lo em termos de valor estético. É absolutamente necessário que aquilo de que se gosta tenha qualidade em algum nível ou, pelo menos, é preciso se ter muito claro as razões do gosto. Ou seja, tem que se construir uma escuta crítica. O risco evidente e mais comum é se cair naquele normatismo burro que conduz a extremos (como não conseguir ouvir música ocidental). Mas é aí que entra outra lição muito importante, dessa vez da antropologia. Para se entender determinada cultura é necessário se partir em primeiro lugar de seus próprios critérios, com o risco de se cair em uma sobredeterminação reducionista. Em outras palavras, não se julga um show do João Gilberto com os mesmos parâmetros com que se julga um do Reginaldo Rossi. Um show do rei nunca terá a riqueza musical que o violão do mestre João proporciona, ao mesmo tempo que este jamais conseguirá ser tão cativante e divertido quanto o Reginaldo. Escolher um dos critérios (afinal, no show o que importa mais é a música ou a performance?) como o mais relevante e partir daí hierarquizar só irá levar a reducionismos empobrecedores, do tipo João Gilberto é muito chato, ou Reginaldo Rossi é muito brega. Mais interessante, e isso em termos de crítica, e não de gosto, é tentar compreender como ambos são mestres, cada um a seu modo e em seu devido lugar, independente de sua preferência pessoal.
Não quero dizer com isso que meu gosto caiu num relativismo absoluto. Pelo contrário, talvez a lição mais profundamente introjetada por mim nesses anos de formação seja a do marxismo, que é normativo e rígido quase por natureza. Mas um marxismo dialético e, sobretudo, brasileiro, onde a vida social não encontra espaços de mediação para se realizar. No caso de nosso país, mais do que em outros lugares, reconhecer valor só em Miles Davis, Shoemberg, Chico Buarque, Tom Jobim e Frank Zappa não é só um problema estético mas, sobretudo, de classe. Dessa vez, a lição é da sociolingüística: tudo bem em se apreciar um português gramaticalmente correto, desde que reconheçamos o quanto há de elitista e preconceituoso nessa preferência. Para isso, é preciso historicizar a própria língua. O primeiro passo para a crítica é reconhecer o quanto de filha da puta há em seus próprios critérios, construindo assim um tipo de pensamento cuja base de fundamentação é criada pelo objeto. Dialética é o pensamento que comete violência contra si próprio. Adorno. É melhor cair em contradição do que do oitavo andar. Falcão.
De novo, não quero dizer com isso que não entre em questão o julgamento estético. No limite, é sempre o valor que está em questão, mas tendo agora a consciência de que o próprio valor é uma construção que precisa ser revista a cada nova avaliação. Só dessa forma eu posso afirmar que Roberto Carlos é muito mais interessante do que Amado Batista, que o brega romântico de Fabio Junior e Roupa Nova derivam de outra matriz, mais pop romântico internacional, que nada tem a ver com a matriz de onde parte Frank Aguiar,que nesse sentido faz musica de raiz. Longe de ser um pensamento passivo e conciliatório, permite inclusive caminhar mais livremente por tabus e polêmicas, como perceber que Maria Bethania é tão brega quanto Roberto Carlos, e que o lugar simbólico ocupado por ambos se deve a outros critérios que não estéticos. Afirmar que a Banda do Chico Buarque é bem fraca, que Sabiá mereceu as vaias apesar de toda sua pompa, que a Bossa Nova é de fato elitista, e que essa dimensão é essencial para sua força estética. Que o pagode do Art Popular é mais interessante do que a maioria do samba universitário que os artistas da nova velha MPB fazem hoje, assim como Ivete Sangalo é muito mais artista que Maria Rita. Que o Pink Floyd é o melhor grupo de progressivo não por ser o mais experimental mas, ao contrário, por fazer o melhor pop. Que Luis Gonzaga é tão importante para o surgimento da MPB quanto João Gilberto e Tom Jobim. Em outro campo, reconhecer que Godard é um gênio, mas que Spilberg também é. Cada um na sua. E por ai vai. O mais interessante dessa forma de pensar é não tentar encontrar valor apenas no já consolidado, transformando o mundo num reflexo da própria subjetividade. Encontrar, de fato, o outro. Levar a sério a premissa básica (e que no meio acadêmico, por exemplo é muito rara) de que o pobre também pensa, e que portanto estabelece critérios lógicos de avaliação que trazem contribuições relevantes, não sendo pura massa de manobra. Isso não significa ignorar o peso das determinações da Indústria Cultural, mas reconhecer que ela não é a mão invisível do Adam Smith, mas a totalidade particular do capitalismo. A contradição tornado forma, tal como descrita por Marx, uma estrutura rígida absolutamente maleável.
sábado, 16 de maio de 2009
Música de Preto além mar - parte 1

Alavancado pela festa Makula [festa um tanto itinerante que acontece mensalmente no Rio de Janeiro:http://www.myspace.com/festamakula ], andei pesquisando os gêneros musicais do velho continente Africano. Eu já tinha uma 'pequena' noção da gigantesca diversidade músical [fruto da homérica diversidade sociocultural e lingüística – só para ilustrar, muitos dos 53 países da África possuem (facilmente) mais do que 50 tribos, grupos étnicos e sociais totalmente distintos, e o continente conta com mais de 1000 línguas (sem contar seus respectivos dialetos!)]. Porém, Lucio e cia me apresentaram vários gêneros que me chamaram muito a atenção, coisas bem bacanas como o voodoo funk e outros sons que assimilam jazz, soulfunky e R&B, além dos ritmos já bem conhecido como o Highlife, o Juju, o Soukous, o Räi, o Kuduro e o Afrobeat. Tudo isso desconstruiu o idéia que eu sustentava de que era difícil encontrar ritmos africanos que se modernizaram sem ficar ou brega, ou comercial ou descaracterizado além do grande guru Fela Kuti (um dos pioneiros na mistura de jazz e música de preto – muito presente nas pickups da festa makula!)...

Deixando a enrolação de lado, pra quem prefere escapar fedendo deixo alguns discos e uma dica [para fazer o download, basta clicar no nome do album!]:
Africa Scream Contest: Coletânea de vários grupos africanos – Dêem uma atenção especail para a Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou, é de deixar James Brown e JB's com inveja (video no youtube)!!!

Mulatu Astatke e a rapaziada do The Heliocentrics: Ethíope, nascido em 1943 considerado o pai do Ethio-jazz. Sua música é única, pontuada por cool jazz, salsa, funk e uma sonoridade que remete a toques árabes e indianos.


Dica: escute o programa que os DJs da festa Makula apresentam na rádio Gruta: http://www.radiogruta.com/ .
Assinar:
Postagens (Atom)