O HORROR NO FUNK
SABOTARAM MEU COPO
(MC Priscila \ MC Magrinho)
Ela puxou perdeu a linha
Tirou a calcinha de uma vez só
Ela ficou desnorteada.
Sabotaram meu copo fudeuEla puxou perdeu a linha
Tirou a calcinha de uma vez só
Ela ficou desnorteada.
E tacaram balinha
Eu não sei o que aconteceu
Só sei que acordei numa treta de luxo
Com uma ressaca desgraçada
Pra onde eu olhava havia piroca
E eu com a buceta toda inchada
Eu não sei o que aconteceu
Calma calma Priscilinha só rolou uma surubinha.
Eu dei na salinha? (Deu deu)
Eu dei no quartinho? (Deu deu deu)
Eu dei no banheiro? (Deu deu)
Eu dei na cozinha? (Deu deu deu)
Eu dei de quatro? (Deu)
Eu dei de lado? (Deu)
Eu dei por cima? (Deu)
Eu dei por baixo? (Deu)
Caralho o frango assado quem me comeu?
Eu eu
Quem me comeu?
Eu eu
Essa é uma das mais fortes expressões do horror que pode conter o funk carioca. É difícil até de começar a pensar em qual elemento de barbárie é o pior nesse caso. O mais terrível de todos talvez seja justamente o tom de celebração. Estamos bem no meio de uma típica orgia que o gênero celebra como espaço de ostentação. Nesse caso, porém, com condicionantes específicas que tornam as coisas ainda mais terríveis. De início temos a voz do estuprador a se gabar do seu feito: colocou um boa noite cinderela no copo de uma moça e a levou para um quarto para ser estuprada coletivamente. Em seguida temos a voz da própria vítima, que se de início se espanta com o que vê, logo começa a descrever tudo com precisão típica do estilo, enumerando didaticamente as partes do corpo e o que era socado onde. Essas descrições no funk fazem parte de sua dinâmica e de sua coreografia, e são basicamente celebradas como lugar da libertação do corpo para o prazer, tanto do homem quanto da mulher. Nesse sentido, pode-se dizer que da perspectiva feminina encenada na canção, acontece uma celebração do estupro coletivo enquanto orgia e “putaria” (um das categorias centrais do funk). Apenas não se nomeia como tal, mas é exatamente disso que se trata. Estupro, puro e simples – aquilo que a “crueza” e “precisão” sintomaticamente pode descrever em detalhes, mas nunca nomear. A emancipação do prazer feminino serve aqui diretamente a mais pura barbárie.
Para ampliar a dimensão do horror, acrescenta-se aqui uma condicionante de classe. Sabe-se que no funk a cultura do dinheiro a todo custo é louvada - o mais explícito evidentemente é o funk ostentação, mas é possível encontrar essa celebração no gênero como um todo. Ter dinheiro, estar ao lado de quem tem status, ser o rei do camarote, tudo isso é cultuado pelo funk como condicionantes da “putaria”. Prazer e consumo participam da mesma cadeia semântica. Em “Sabotaram meu copo” é esse o vetor que vai tornar possível a celebração do estupro por parte da vítima e dos estupradores, uma vez que tudo acontece em uma “treta de luxo”. O poder do capital justifica os atos dos estupradores, liberando-os da culpa, ao mesmo tempo que faz da vítima uma mulher de sorte, por ter sido escolhida pelo topo da cadeia social. Tudo se justifica, afinal, trata-se de relações de mercado. Vivemos no melhor dos mundos.
É claro que o gesto imediato de qualquer um que minimamente considera o que se expressa nessa canção uma afronta a própria concepção de “humanidade” é de recuar horrorizado. Aliás, uma ótima ideia é estabelecer limite de idade para o funk, assim como se faz com os filmes. Contudo, justamente em nome do “humano” é que devemos tentar o caminho oposto, e avançar mais pelo interior da barbárie. Acredito que esse é o verdadeiro gesto emancipatório aqui: encarar o fantasma e atravessa-lo. Para isso, deve-se evitar as duas posições que formam um par de oposição complementar.
A primeira é a defesa da barbárie em nome de certa aceitação cultural cosmética. Os defensores do funk contra os ataques “elitistas” sempre usam o relativismo cultural como argumento final. Ninguém tem o direito de definir o gosto, o funk faz parte da cultura da periferia e, como tal, deve ser respeitado, qualquer ataque ao funk deve ser recusado como um gesto elitista, etc. A postura liberal de aceitação da diferença nesse caso procura infantilizar aquilo que aparentemente defende: é porque não nos diz respeito que o funk deve ser aceito e protegido enquanto expressão cultural. Mas ao contrário do pressuposto dos defensores “culturalistas” o que se deve rejeitar em “Sabotaram meu copo” não é a identidade periférica em construção, e sim a celebração do estupro, que precisa ser nomeada e encarada enquanto tal, como expressão de horror daquele outro que está em nós. É só assim, inclusive, que o funk revela sua força, quando passamos a encara-lo não como uma expressão cultural qualquer da periferia, e sim como um olhar gestado na periferia que diz respeito ao conjunto das relações sociais como um todo. É da periferia, mas diz respeito aos que não são, ou melhor, é por ser da periferia que precisamente diz respeito ao conjunto da sociedade atual. É por ser o avesso da “Sociedade” que o funk é o lugar de sua verdade, aquele resto de Real que não se presta aos mecanismos de identificação e retorna como fantasia perversa.
Só assim é possível superar a indiferença da relativização cultural e, ao mesmo tempo, libertar-se do risco da postura que lhe é oposta e, em certa medida, complementar, o ódio absoluto e o desejo de eliminar o gênero da face da terra, para o bem da humanidade. Essa postura é também muito comum, como pode ser lido em diversos textos da internet, como esse caso de um tal Fernando Toledo, que afirma que o funk não é música, e muito menos arte.
“Para que o fenômeno musical ocorra, três elementos devem estar presentes: ritmo, melodia e harmonia. E, nesse pretenso estilo, somente o primeiro se manifesta. O funk carioca se baseia, simplesmente, em frases entoadas ao longo de uma base rítmica, sem que haja um sentido horizontal (notas em série) ou vertical (notas sobrepostas, constituindo acordes). Dessa forma, não é música. […] Assim sendo, pode-se afirmar, sem medo, que o funk carioca não é manifestação artística legítima de gueto nenhum, visto que, simplesmente, não é música, nem mesmo arte. E que opera numa esfera muito distante do humano”.
“Para que o fenômeno musical ocorra, três elementos devem estar presentes: ritmo, melodia e harmonia. E, nesse pretenso estilo, somente o primeiro se manifesta. O funk carioca se baseia, simplesmente, em frases entoadas ao longo de uma base rítmica, sem que haja um sentido horizontal (notas em série) ou vertical (notas sobrepostas, constituindo acordes). Dessa forma, não é música. […] Assim sendo, pode-se afirmar, sem medo, que o funk carioca não é manifestação artística legítima de gueto nenhum, visto que, simplesmente, não é música, nem mesmo arte. E que opera numa esfera muito distante do humano”.
Aqui o mecanismo ideológico mal se disfarça, sobretudo pela definição primária e quase infantil do que seja o tal do fenômeno musical, saltando aos olhos o desejo contido do autor em afirmar que pobre funkeiro é sujo e não deveria existir, pois o que eles fazem é lixo. O ódio que ameaça saltar o texto deixa entrever o estado de ânimo por onde escapa a justificativa moral que, no limite, aprova o extermínio de funkeiros como Mc Daleste.
Ora, diante dessas duas opções - a aceitação pós moderna do horror no funk (que acaricia, mas quer manter separado por grades de aço maciço) e sua rejeição neopentecostal como coisa do capeta que deve ser eliminada da face da terra (em nome do amor divino) - qual o caminho a seguir? Obviamente que o par de oposições é falso, sendo necessário traçar um terceiro lugar a partir da percepção do mecanismo de sustentação oculto que estrutura as duas escolhas. A força do funk, seu impacto, o poder de penetração e toda agressividade apaixonada das respostas que gera deve-se ao fato óbvio de que ele participa de dimensões profundas da realidade, o fantasma da “sociedade brasileira”, aquele resto obsceno que não se deixa eliminar e que guarda o “segredo” profundo da significação. O pequeno objeto a lacaniano, aquele resto de Real que sustenta-se enquanto vazio no interior da estrutura simbólica. O funk diz respeito a todos nós, justamente por concentrar-se agressivamente na dinâmica periférica. Por isso, tenta-se a todo custo enquadrar narrativamente seu potencial disruptor enquanto desvio da normalidade, de modo a justificar a dinâmica da barbárie que o próprio funk enuncia. É evidente que o gênero não expressa somente relações “degeneradas” ou “autênticas” da periferia. A cultura do estupro celebrada em “Sabotaram meu copo” é o fundamento não explícito de toda a sociabilidade em sua dinâmica contemporânea. Daí o esforço dos setores que querem conservar a “normalidade” das coisas para enquadrar a barbárie funk como um elemento externo que perturba a normalidade, enquanto mal ocultam que o funk é a representação que pauta a própria normalidade.
Como o rap deixou bem evidente, a periferia é o lugar de verdade da nação a partir do desmantelamento dessa categoria, o lugar de ser de seu projeto fracassado. A passagem do rap para o funk enquanto produção “hegemônica” na periferia é assim profundamente reveladora de novos dinamismos sociais que tomam forma na sociedade. Pode-se dizer que o funk é o sintoma do fracasso do rap em realizar seu projeto emancipatório. O funk recusa a dimensão ética (Racional) que para o rap é condição de emancipação, e retorna agressivamente ao gozo e ao corpo, que haviam sido moralizados como em nome da promessa de libertação dos “irmãos” mediante uma tomada de consciência periférica, condição para sobreviver no inferno. Libertação que não aconteceu, ainda que tenha trazido avanços, é importante dizer. O funk mergulha na mesma barbárie exposta pelo rap – a nossa miséria social – mas sem comportar um projeto de emancipação periférica. Não por acaso, ele reina na dimensão do gozo que foi colocada em segundo plano pelo rap.
Essa passagem, regressiva nesse aspecto (mas que revela o avesso obsceno do rap, a necessidade de moralização do gozo que é um dos limites internos de seu projeto de emancipação, e que torna-se explícito por exemplo na condição inferiorizada que a mulher ocupa no gênero), está longe de ser um aspecto circunscrito ao funk. Pelo contrário, seu interesse profundo consiste na capacidade de materializar formalmente a nova dimensão da catástrofe social que nos atinge, e o estado de espírito a ela correspondente. “Sabotaram meu copo” diz respeito a todos nós, revela o modo como a cultura do estupro permeia o conjunto das relações entre gêneros no Brasil. Não se trata de um desvio de norma a ser condenado: seu interesse consiste em mostrar claramente (versão hard do cinismo) qual é a regra que nos pauta, e é nesses termos que deve ser recusada. Essa mesma dinâmica é registrada em muitas outras instâncias do entretenimento brasileiro. Os exemplos são muitos: a passagem do mecanismo de exploração da miséria via caridade em programas como o do Gugu e do Silvio Santos (eu exploro os miseráveis porque me compadeço e quero lhes dar uma oportunidade, casa, dinheiro) para a exploração pura e simples sem justificativa que não a própria exibição da humilhação em programas como Pânico na TV e o Big Brother (recomendo fortemente o trabalho fantástico de Silvia Vianna sobre o reality shows); a passagem do padrão jornalístico imparcial coxinha do Jornal Nacional para o modelo ultra conservador do jornalismo Datena; a passagem do modelo de humor de representações baseadas em caricaturas que segue o padrão Chico Anísio ou do Viva o Gordo para o modelo de mera humilhação dos marginalizados, seguido por Danilo Gentile, Rafael Bastos, entre outros; um modelo de crítica mais à esquerda, ou que pelo menos considera relevante processos históricos e sociais para compreensão da sociedade, para um padrão conservador ultra direitista de interpretação, representado por figuras como Lobão, Pondé, Diogo Mainardi, Reinaldo Azevedo, de grande sucesso editorial; a agressividade da ética neopentecostal, etc. Todas essas transformações culturais, vistas em conjunto – e seu momento chave é o sucesso estrondoso do Tropa de Elite, com a adesão em massa ao olhar conservador do Nascimento - são profundamente reveladoras de um novo estado de espírito local, cuja dinâmica é preciso identificar.
(E cabe aqui a perguntinha teórica que não quer calar: como fica a crítica imanente, se todos esses objetos são recusados por ela, uma vez que seu interesse não está em se contrapor à barbárie, mas em sua ritualização?)
Manter o sentimento de horror diante de “Sabotaram meu copo” (e não do funk como um todo) é uma postura de maior identificação simbólica com a periferia do que passar a mão na cabeça falando como é fofinha e bonitinha a cultura dos favelados. É o oposto da falsa identificação de Dickens com os mais pobres, que são sempre lindos, cheirosos, inteligentes e esperançosos - uma imagem as avessas de um lorde inglês, o verdadeiro objeto de admiração, que deve amar os marginalizados como prova da própria superioridade. Diga-se de passagem, a mesma falsa identificação presente em “Gente humilde”, da dupla Chico\ Vinicius. Deve-se, antes, pautar-se pela identificação imaginária de Chaplin com as crianças. Chaplin as bate, engana, briga, não por ser superior e mal, mas justamente porque se identifica com o olhar infantil. É mais um deles, está junto e misturado.
É claro, esse sentimento de horror é também em tudo oposto ao que considera o funk um lixo desprezível a ser eliminado. Aqui entra em cena um personagem kafkiano, o pai de família que se encontra diante do mistério de Odradek, e o contempla com ódio, por ser incapaz de compreender como “aquilo” pode respirar, pode conter vida. Como algo tão nojento e abjeto pode ser chamado de vida (ou de cultura)? O que horroriza o pai de família kafkiano é a dimensão do desejo do Outro, que é inapreensível, e que ressurge enquanto experiência do horror absurdo, aquilo que é preciso eliminar no Outro para que possa garantir-se a integralidade imaculada do meu próprio ser.
O que deve nos horrorizar, então? É a revelação do absurdo em nós, a compreensão de que o funk é o lugar mesmo de nossa própria barbárie, a revelação daquilo que nos constitui, atualmente, enquanto sociedade. O que deve desaparecer e ser eliminado não é o funk bode expiatório, e sim nós mesmos. O funk é nosso modo de formalização (poder de revelação do entretenimento rebaixado, não autônomo e a-crítico) da miséria do presente.
A verdade em que o funk se assenta, e que assusta a gente de bem, é sua consciência de que a realização plena do projeto brasileiro de inclusão por via do consumo só é possível para os excluídos na condição de contravenção – daí a valorização de conteúdos pulsionais obscenos e violentamente marginais como sequestro, assaltos, tráfico, pedofilia, sexualidade agressiva. Essa consciência agressiva é, simultaneamente, tanto o que faz com que os funkeiros sejam perseguidos e, no limite, mortos, pela Sociedade de bem, quanto a condição mesmo de seu aprisionamento ideológico, uma vez que a posição marginal é ainda o lugar reservado para o pobre nos projetos higienistas de “formação nacional”, a “brecha que o sistema queria” para legitimar-se. O funk é assim o lugar mais vivo dessa contradição estrutural da sociedade brasileira. Para os excluídos, a tomada de consciência funciona como elemento de aprisionamento e mitificação, enquanto que a “Sociedade” celebra\rejeita a barbárie funk enquanto elemento exterior fantasmático que garante a coesão social.
A marginalização do funk é um sinal claro da falência da sociedade, um sinal gritante de que o presente mecanismo social é falho. Contudo, a alternativa geralmente apresentada de “aceitação culturalista” dos valores expressos no gênero deve ser rejeitada como falsa. Aqui é preciso inverter a equação: é porque esses valores já são nossos desde o início que devem ser recusados, o que implica em uma “recusa” da própria Sociedade, e não dos funkeiros como o Outro a partir do qual legitima-se a “normalidade”. Um caminho em tudo oposto a proposta higienista de proibir os bailes. Que a barbárie do funk é do mesmo tipo da normalidade social obscena não resta a menor dúvida: num certo episódio do Pânico da TV, comemorou-se o aniversário de Sabrina Sato. De presente os participantes do programa atearam fogo na moça enquanto os rapazes cantavam Parabéns pra você. Em outra oportunidade, enterraram-na viva. É claro, o programa não é exceção: poderia tranquilamente se tratar da prova do líder do Big Brother. Até que esse mecanismo de identificação – negativo - tenha condições efetivas de se realizar (e aqui a articulação política dos funkeiros pela regulamentação dos bailes, em contraposição a política proibicionista absurda dos governos cariocas e paulistanos assume uma posição decisiva), tanto a aproximação quanto o distanciamento serão gestos que deixam intacto o núcleo perverso do gozo estruturado pela fantasia social.










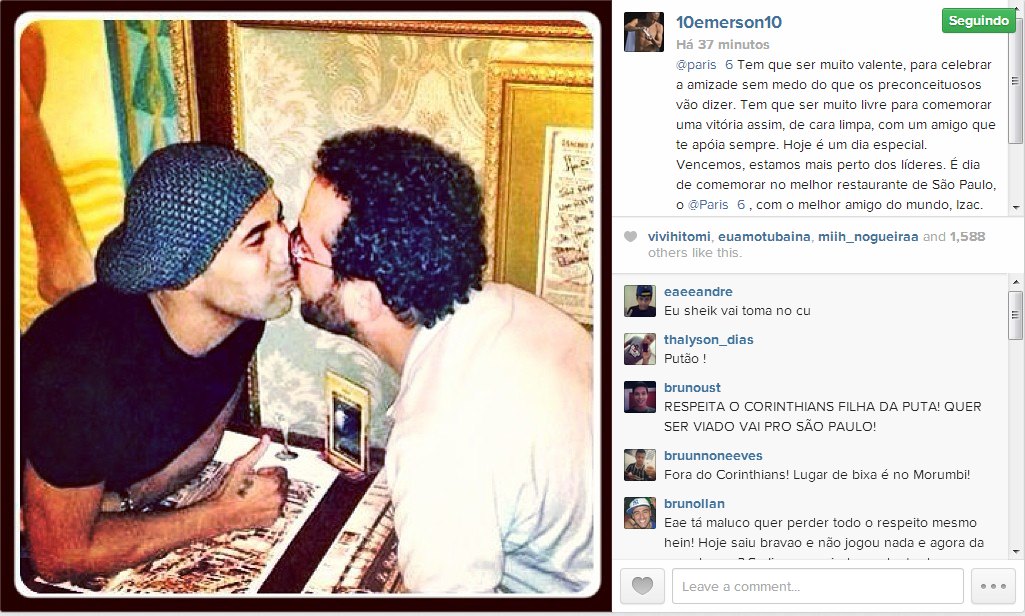


 presença invisível (sua rasura) determina o sentido desta, estruturando-a. Trata-se, evidentemente, do fator Roberto Carlos. Esse é o "verdadeiro" elemento de oposição da polêmica, em torno do qual os outros dois fatores entram em disputa por hegemonia (de uma perspectiva mais macro, o grande elemento ausente não é a disputa política - alto modernismo MPB ou pós modernidade tropicalista - mas a disputa pelo mercado, que não era apenas uma reivindicação Tropicalista). A história, contada a partir dessa irrupção carlista, apresenta outro esquema. A ampliação do fator Bossa Nova promovida pela MPB - que a coloca como o gênero mais vendável da época - é interrompida pelo surgimento de Roberto Carlos como elemento alienígena (produzido pelo mercado), abrindo o campo para uma disputa por hegemonia. A Tropicália, assim, não é oposta ao padrão MPB, mas é a forma mesma que a MPB precisou necessariamente assumir para continuar sendo o gênero hegemônico no sistema, expulsando o paradigma proposto por Roberto Carlos do campo. Dois pólos de um mesmo modelo que se transformam para permanecer no topo.
presença invisível (sua rasura) determina o sentido desta, estruturando-a. Trata-se, evidentemente, do fator Roberto Carlos. Esse é o "verdadeiro" elemento de oposição da polêmica, em torno do qual os outros dois fatores entram em disputa por hegemonia (de uma perspectiva mais macro, o grande elemento ausente não é a disputa política - alto modernismo MPB ou pós modernidade tropicalista - mas a disputa pelo mercado, que não era apenas uma reivindicação Tropicalista). A história, contada a partir dessa irrupção carlista, apresenta outro esquema. A ampliação do fator Bossa Nova promovida pela MPB - que a coloca como o gênero mais vendável da época - é interrompida pelo surgimento de Roberto Carlos como elemento alienígena (produzido pelo mercado), abrindo o campo para uma disputa por hegemonia. A Tropicália, assim, não é oposta ao padrão MPB, mas é a forma mesma que a MPB precisou necessariamente assumir para continuar sendo o gênero hegemônico no sistema, expulsando o paradigma proposto por Roberto Carlos do campo. Dois pólos de um mesmo modelo que se transformam para permanecer no topo.
